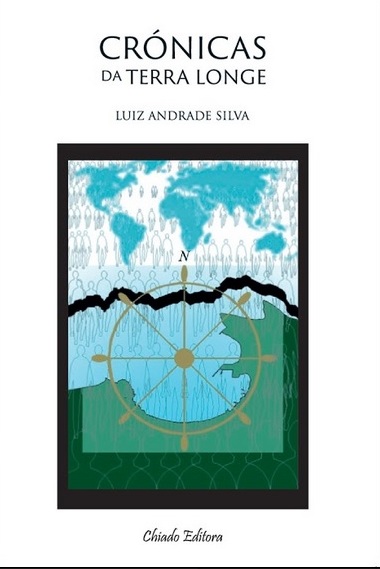MEMÓRIAS DE CRISTAL (4)
Um sonho: "Tambores de guerra"
 |
| Adriano Miranda Lima |
Tive na madrugada de anteontem um sonho que me provocou uma funda emoção de que não me refiz ainda. E mesmo hoje não posso dizer que a poalha esteja de todo assente.
Surge-me no sonho um cenário de África, a profunda, a invadir as entranhas dos meus sentidos, cenário em que me sinto completamente incluso como actor e ao mesmo tempo como observador lateral. Há uma estrada larga de terra batida, uma espécie de terreiro limpo de qualquer obstáculo, frente a uma povoação indígena com cubatas mais dispersas que compactas, e no meio delas sinais ténues de terra lavrada. De súbito, uma ventania fustiga tudo à volta e o espaço é flamejado por um fenómeno luminoso semelhante a uma aurora boreal. Decorrido breve tempo, segundos apenas, tudo regressa à normalidade e instala-se um profundo e inquietante silêncio. E é quando se avista uma força militar equipada para o combate desfilando ao longo do terreiro. A força é de efectivo razoavelmente numeroso, parecendo um batalhão, e a formação é em frente de 6, isto é, fileiras frontais de 6 e não de 3. Isso só acontece quando as companhias, normalmente com 4 pelotões, desfilam com estes lado a lado, 2 a 2, em vez de atrás uns dos outros. Neste último caso, em jargão militar designamo-lo por coluna de marcha. À frente da força vai uma fanfarra em que predominam mais tambores que instrumentos de sopro, pois que o som cadenciado daqueles se sobrepõe nitidamente a tudo o resto.
Sinto que faço parte integrante daquela força, mas circunstancialmente estou diferido da sua existência física, num ponto de observação que me permite observá-la pelo seu lado direito, no sentido da marcha, mas sem deixar de englobar a paisagem humana indígena envolvente. O que me toca o fundo da alma é a impressionante e vigorosa sonoridade dos tambores de guerra em perfeita cadência com a passada sincopada dos militares, como se essa sonoridade dramática fosse a peça essencial daquele cenário. Tanto que acordei do sonho e o ruído continuava a martelar-me incessantemente dentro da cabeça, a ponto de não ter conseguido voltado a adormecer, até porque a aurora estava quase a raiar. Mas todo o dia o som dos tambores em ritmo marcial me perseguiu continuamente e neste momento ele ainda se me impregna nos sentidos, ainda que com menor intensidade e em vias de dissipação.
Mas, durante o sonho, o ruído não me perturbava, pelo contrário, desejava-o como algo de impetuoso e sublime inerente ao meu ser integral. Um ruído que, confesso, me provoca uma comoção que não sei explicar senão na medida em que a minha experiência de vida militar em África me suscita às vezes uma fina nostalgia, apesar da angustiosa memória de ter estado no seio de uma guerra que era inútil e injusta. Existe efectivamente algo paradoxal, é como querer regressar ao passado para o rejeitar ou para eliminar o que ele teve de mau. E sem dúvida que de verdadeiramente mau foi a perda em combate de homens sob o meu comando: em Angola, sendo alferes comandante de pelotão, perda de um cabo e um soldado; em Moçambique, capitão comandante de companhia, perda de dois furriéis, dois cabos e oito soldados.
Mas o mais perturbante do meu relato vem a seguir. Naquela formação em marcha, na primeira fileira e do lado direito, em que me encontro como observador excluso daquela realidade, marcha o 1º cabo morto em Angola, a olhar para mim com uma estranha fixidez. Chamava-se Aníbal Esteves Macedo, e já lá vão 49 anos desde que, numa madrugada de Junho de 1966, foi atingido com vários tiros no peito em cima da viatura em que ia montada a secção a que pertencia (nove homens). Foi uma emboscada sofrida perto do rio Luce, varrendo toda a extensão da coluna motorizada comandada pelo jovem alferes que eu era então, as armas inimigas a crepitar ruidosamente de todo o lado. A viatura do cabo ia precisamente atrás daquela em que eu seguia, num total de quatro Unimogs médios.
Por que é que o sonho me permite identificar apenas o cabo, ao passo que tudo o resto é uma formação compacta de militares em marcha, sem qualquer distinção fisionómica individual? E por que é que o cabo me olha com fixidez? Vejo-o, quero correr para mandar suster a marcha por alguma razão que aparentemente não tem nada a ver com ele mas que certamente tem tudo a ver. Mesmo no sonho, o que sinto é de uma ambiguidade que assim se explica: sentimento de partilha da beleza e grandiosidade daquela imagem a que pertenço de parte inteira, e ao mesmo tempo desejo secreto de apagar o que ela evoca de irreversivelmente trágico? Apagar a morte do cabo que repentinamente parece emergir da eternidade para me vir interpelar? Seguramente. Naquele cenário, que é manifestamente um “bas-fond” da presença de guerra, ou do seu prenúncio, existe, no entanto, qualquer coisa de plangente e indefinível humanidade, se é que esta não subverte o seu sentido ontológico quando os homens se armam e se municiam para fins violentos. Direi então que o que vejo, sinto e revivo é uma combinação perfeita de poesia e violência incontida. Ortega e Gasset chamou-lhe o homem e a sua circunstância – “Eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim”.
A verdade é que no sonho quero interferir com o andamento daquela força militar, invadir-lhe o espaço, diluir a sua existência num vácuo qualquer, e, no entanto, sentir necessidade de com ela prosseguir e atravessar o tempo e o silêncio, imune a qualquer conjectura ou julgamento.
Há uma explicação psicanalítica para este sonho? Provavelmente. Sem querer usurpar as prerrogativas de Freud, creio que este sonho pode associar-se à mágoa que não me abandona por esses dois jovens que eram da minha idade, cabo Aníbal Esteves Macedo e soldado Joaquim Ferreira Lima, terem ficado sepultados num pequeno cemitério, algures na África profunda, num lugar que se chama Lumbala. Ali repousando para sempre, longe das suas famílias, que em 20 de Novembro de 1965 os viram embarcar num grande navio de transporte de tropas, chamado "Vera Cruz", para nunca mais os poderem voltar a abraçar. Diferente foi o caso dos meus 12 mortos de Moçambique, pois que nessa altura os militares mortos passaram a ser enviados em urna de chumbo para serem inumados nos cemitérios dos seus lugares de origem, em Portugal continental ou noutra qualquer parcela do império.
Trago na memória, com uma impressionante precisão, os traços fisionómicos desses dois companheiros transmontanos. Não me esqueço dos seus sorrisos, dos seus desabafos, dos seus impulsos juvenis. Éramos quase imberbes…
Tomar, 27 de Setembro de 2015
Adriano Miranda Lima