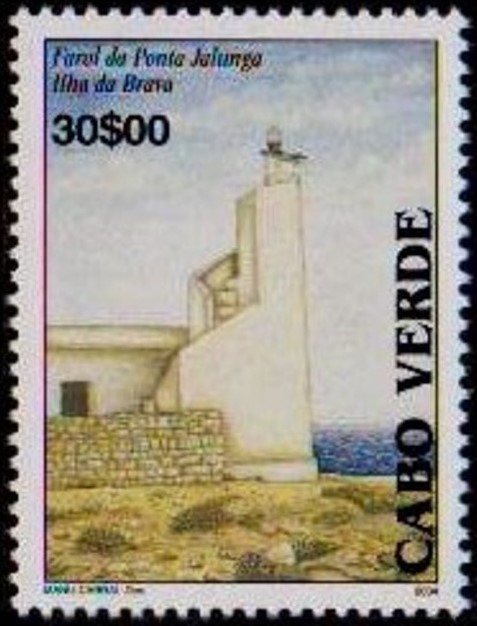Eu, estátua, indefesa e silenciosa
(Miguel Sousa Tavares, in Expresso, 11/12/2021)
“Eu, Diogo Cão, navegador,
deixei este padrão ao pé
do areal moreno
E para diante naveguei”
Fernando Pessoa, in “Mensagem”
Mário Lúcio de Sousa, natural do Tarrafal, Cabo Verde (onde, da última vez que lá estive, nenhuma estátua, nenhuma placa, nenhuma simples escultura, evocava o campo de morte onde tantos resistentes portugueses pagaram pela sua luta contra o fascismo e o colonialismo), escreveu no “Público” de domingo passado um artigo a defender o derrube, o “afundamento” ou a “vandalização” das estátuas coloniais portuguesas em Portugal. Embora identificado pelo jornal como “escritor e músico”, confesso que a minha ignorância sobre ele era total. Erro meu: a sua biografia ilustra-o como poeta, escritor (com dois prémios literários portugueses conquistados), músico, cantor, “cantautor”, “pensador”, pintor, global artist e ex-ministro da Cultura de Cabo Verde. Um personagem e tanto! Das suas qualidades musicais, a net pouco mais me revelou que brevíssimos excertos dos vários concertos ao vivo em que parece ter ocupado o seu último Verão em Portugal, mas nada que o aproxime sequer dos vários nomes que fizeram da música cabo-verdiana uma referência mundial. Das suas qualidades literárias, apenas consegui chegar a dois poemas sofríveis, para não dizer medíocres, e o próprio texto publicado no jornal, onde, em minha modesta opinião, faz um fraco uso desta extraordinária língua que lhe deixámos em herança… para além das estátuas. Mas isso é o menos, o fundamental é o seu argumentário.
Primeiro que tudo, a questão da legitimidade. Mário Lúcio (como ele gosta de assinar) fala em nome dos “antigos colonizados, seus descendentes, hoje pessoas nascidas, crescidas, naturalizadas, cidadanizadas, nacionalizadas, simplesmente portuguesas”. Ora, os de quem ele fala, sim, são portugueses, tal qual como eu; ele, não. Por mais que este país o acarinhe e premeie, ele continua a ser, de direito, um estrangeiro, como eu sou em Cabo Verde — embora, segundo percebi, ele goze daquele estatuto especial de alguns cidadãos dos PALOP de serem aqui quase tão portugueses como nós, mas, vade retro, orgulhosamente africanos em África e no Brasil… Assim, a minha pergunta é: que legitimidade tem um estrangeiro para vir pregar o derrube de estátuas, ou do que quer que seja, num país que não é o seu? Acaso ele se atreveria a isso em Inglaterra, em Angola ou no Brasil? Acaso ele me consentiria isso em Cabo Verde?
Segunda questão, o fundamento. Diz ele que os “‘novos portugueses’ continuam a ouvir os ecos das ordens de matar e de castigar, esses que abafam os uivos de dor”. Não vou, obviamente, discutir o que foi a barbárie da escravatura e o tráfico de 1.400.000 seres humanos, que, só os portugueses, levaram, acorrentados, de África para o Brasil — e sem os quais o Brasil que conhecemos não existiria. Mas se os “novos portugueses” ainda ouvem esses ecos, eu não: não há chicotes nem correntes em minha casa e não oiço uivos de dor vindos da sanzala dos meus escravos. O meu dever contemporâneo é contar a história, a verdadeira história (e, sim, ao contrário do que ele diz, já há em Lisboa um monumento de homenagem às vítimas da escravatura, mas, por pudor, não há um Museu das Descobertas). E, sobretudo, é meu dever denunciar novas formas de escravatura, com novos disfarces, sem chicote nem correntes, como as de que são vítimas os trabalhadores asiáticos na agricultura intensiva — e de que não se ocupam estes activistas talvez porque eles não são negros. Porque também me espanta que estes derrubadores de símbolos de um passado que há muito deixou de existir se remetam a um silêncio sujo de cumplicidade com as múltiplas formas como os povos dos países africanos outrora colónias portuguesas hoje são roubados pelos seus dirigentes, à vista de todos e como nunca foram antes. Não é o caso de Mário Lúcio, natural do único desses países que tem orgulhado a sua independência, mas o que dizer da deputada portuguesa Joacine Katar, aqui acolhida como em raros países do mundo, tão crítica do seu país de acolhimento e tão silenciosa perante a vergonha continuada que é a governação do seu país de origem e a desgraça do seu povo?
Terceira questão: o que querem eles derrubar ao certo? Mário Lúcio não esclarece esta questão, dizendo apenas que “a história é tanto a erecção das estátuas e monumentos como a sua demolição”, e o “Público” ilustra o seu texto com uma fotografa do Padrão dos Descobrimentos — cuja demolição, aliás, já foi defendida por uma luminária do PS. E, numa infeliz comparação, Mário Lúcio diz que os alemães, pelo menos, “não expõem as estátuas dos nazistas”. Passe o insulto, decerto imponderado, a verdade é que eu não conheço por cá nenhuma estátua a esclavagistas — a não ser, assim se achando, as que houver ao Infante D. Henrique, que foi, historicamente, o primeiro importador de escravos em Portugal. Mas uma vez derrubado o Infante, um dos maiores homens do seu tempo e um visionário da História da Humanidade, tudo o resto que tenha que ver com aquilo que ele iniciou e a que chamamos a epopeia das Descobertas Portuguesas terá de ser varrido do olhar e da memória, actual e futura. Estátuas, monumentos, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém, Jerónimos, Mafra, Queluz, e não só aqui: por todo esse mundo fora, onde, desde 1415 até à independência de Macau, alguma vez os portugueses pousaram pé, e onde, com bússolas ou sextantes, com mapas ou sem mapas, com escravos, sem escravos ou com índios, ergueram castelos, fortes, igrejas, feitorias, sinais do Ocidente europeu e do seu tempo entre “gente remota”. Aquilo que esses países preservam como património histórico e como fonte de receitas turísticas, mas que o buldozer da história “limpa” deveria derrubar, em consequência e por igual. Mas, uma vez isto feito, a limpeza da memória histórica não estaria terminada. A exaltação do “colonialismo” português, confundida por estes derrubadores de estátuas com tudo o resto, não poderia, coerentemente, ficar saciada.
Sobrariam ainda, por exemplo, as pinturas e os livros: “Os Lusíadas”, “A Peregrinação”, “As Décadas da Índia”, o “Esmeraldo de Situ Orbis”, os relatos da “História Trágico-Marítima”, o “De Angola à Contracosta”, e tantos, tantos livros mais, que haveria bibliotecas inteiras para queimar em autos-de-fé. E os escritores que algum dia se deixaram tomar pelo espanto daqueles que navegavam sem horizonte conhecido: Camões, Pessoa, Jorge de Sena, Manuel Alegre, Sophia.
Diga-me lá, Mário Lúcio, com a sua visão de global artist: a sua fúria demolidora começa em que estátua nossa em concreto e acaba em que específico pergaminho?
Miguel Sousa Tavares escreve de acordo com a antiga ortografia